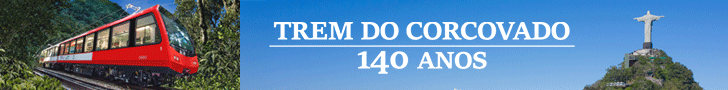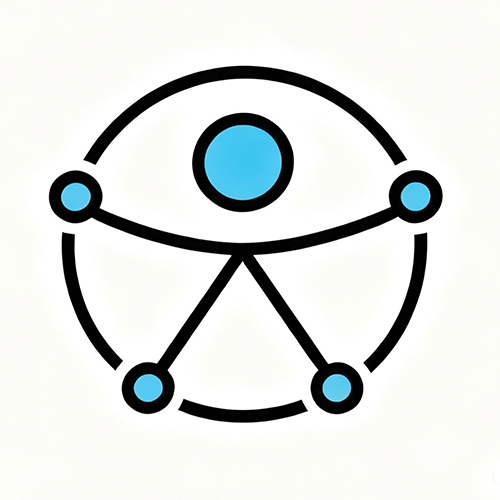Fotos: Marcello Dias
Luiz Calainho:
O MAESTRO DA ECONOMIA CRIATIVA
 Nossa entrevista aconteceu em um de seus habitats naturais: o teatro. Não que ele seja um artista. Mas está por trás de vários. O suíço Luiz Calainho, que tem alma para lá de carioca, possui múltiplos negócios na área da arte. Poucos empresários brasileiros conseguiram construir um império tão diversificado e relevante no campo da economia criativa quanto ele. Sua trajetória começou nos anos 1990, na Sony Music, onde chegou a ocupar a vice-presidência e mergulhou de vez no universo da música. Foram anos de viagens pelos cinco continentes, de contato direto com artistas, shows e convenções, que moldaram sua visão de negócios.
Nossa entrevista aconteceu em um de seus habitats naturais: o teatro. Não que ele seja um artista. Mas está por trás de vários. O suíço Luiz Calainho, que tem alma para lá de carioca, possui múltiplos negócios na área da arte. Poucos empresários brasileiros conseguiram construir um império tão diversificado e relevante no campo da economia criativa quanto ele. Sua trajetória começou nos anos 1990, na Sony Music, onde chegou a ocupar a vice-presidência e mergulhou de vez no universo da música. Foram anos de viagens pelos cinco continentes, de contato direto com artistas, shows e convenções, que moldaram sua visão de negócios.
Em 2000, Calainho fundou a L21Corp, holding que neste ano celebra 25 anos e que hoje reúne 17 unidades de negócios interligados pelo mesmo fio condutor: a produção de conteúdo cultural de excelência, sempre em diálogo com grandes marcas e patrocinadores. Essa teia de empreendimentos vai de rádios consagradas, como a Mix Rio FM e a Nova Paradiso FM, ao portal vírgula, um dos pioneiros da internet brasileira, passando por festivais de música, gravadoras, agências de marketing de influência e casas de espetáculo.
Entre seus projetos mais emblemáticos, estão o Tim Music Noites Cariocas, festival criado por Nelson Motta e revitalizado por sua equipe; a gravadora Musiqueria, com sua série Samba Book, que celebra nomes icônicos do gênero; e a produtora Aventura, referência no teatro musical brasileiro, com mais de 50 montagens realizadas. E ele ainda faz a gestão de espaços como o Teatro Riachuelo, no Rio, o BTG Pactual Hall, em São Paulo, e as casas Blue Note no Rio e em São Paulo.

Mais do que multiplicar negócios, Calainho se consolidou como um articulador da economia criativa e como alguém que aposta em parcerias, já que possui, hoje, 22 sócios. É como ele declara: “Essencialmente, o meu negócio é produção de conteúdo em alta excelência. Tenho muita preocupação com qualidade e inovação, com o público, com os artistas, com todo o time criativo e, ao mesmo tempo, conecto esses conteúdos com grandes marcas, com grandes patrocinadores, com grandes anunciantes. Até porque, senão a gente não vive”. A seguir, abrimos a cortina do palco para que o espetáculo desse empresário surpreendente inicie.
Você sempre defendeu que cultura é também negócio. No Brasil, ainda existe resistência a essa visão?
Sem dúvida. Muitas vezes, por falta de conhecimento real, a economia criativa é vista apenas como algo lúdico, movido pela emoção. Mas não é. Economia criativa é business. Assim funciona nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Ásia e hoje na China, que cresce muito nesse campo. Um bom exemplo é a Coreia do Sul, que transformou sua produção cultural em soft power e, a partir dela, abriu portas comerciais para suas marcas e produtos. Os Estados Unidos fizeram isso de forma brilhante após a Segunda Guerra. É fundamental entender que não basta só a veia artística: é preciso também gestão, business plan, fluxo de caixa… Meus negócios dão resultado porque são estruturados dessa forma.
 Sua formação em publicidade e propaganda ajudou nesse olhar empresarial?
Sua formação em publicidade e propaganda ajudou nesse olhar empresarial?
Com certeza. Eu me formei pela PUC do Rio, no início dos anos 1980, e logo entrei na Brahma como gerente de produto. Cuidava dos refrigerantes da marca. Estive como executivo no Rock in Rio, em 1985, acompanhando de perto o patrocínio da cerveja Malte 90. Ali comecei a entender, de forma muito concreta, como desenhar produtos e pensar o negócio também sob o ponto de vista numérico e de resultado. Em 1989, a Brahma foi comprada pelo Banco Garantia, e foi uma revolução. O trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira transformou a empresa por completo. Eu fui um dos poucos executivos mantidos e virei gerente de produto da Skol. Para mim, foi uma escola de gestão, de disrupção e de sustentabilidade dos negócios.
E como veio a sua transição para a música?
Na virada de 1990 para 1991, assumi a direção de marketing da Sony Music. Era uma multinacional e, para mim, foi como entrar numa universidade multiplicada pela enésima potência. Foram 11 anos de imersão profunda na economia criativa, mas sempre com a disciplina corporativa que eu tinha aprendido. Até 2000, vivi uma experiência riquíssima, que me permitiu unir os dois lados: o olhar artístico e o olhar empresarial.
Quando você entrou para a gravadora, mergulhou de vez no mundo da arte e da cultura?
Sem dúvida. Foi a alma, literalmente. A música, o teatro e a cultura sempre fizeram parte da minha vida. Roberto Menescal, por exemplo, é um segundo pai para mim.
Mas esse amor pela arte vem de muito antes, não é?
Sim. Meu pai, o comandante Calainho, foi piloto da Pan-Air do Brasil, até a empresa ter suas linhas caçadas pelo regime militar em 1964. Ele acabou trabalhando na Swissair e, por isso, nasci em Zurique. Mas, apesar de ter vindo ao mundo na Suíça, sou carioca de alma e de coração. Minha mãe sempre foi ligada às artes e, desde criança, viajei muito, frequentando teatro, cinema, museus, exposições. Desde cedo, minha vida esteve conectada à cultura.
Você também cresceu muito próximo da música brasileira…
Exato. Nos anos 70, fiquei muito amigo do Márcio, filho do Menescal. E o Menesca, como diretor artístico da PolyGram, recebia toda semana um “suplemento” com os lançamentos da gravadora. Imagine um garoto de 8, 9 anos mergulhando sexta, sábado e domingo em um quarto preparado só para ouvir música, com todos os LPs recém-lançados! E não era pouca coisa: Bossa Nova, encontros com Nara Leão, violão do Menesca tocando O Barquinho. Foi uma imersão única, que moldou minha vida.
Você costuma dizer que seguiu sua verdade. O que isso significa?
Significa que eu nunca trabalhei por dinheiro. Nunca. Sempre trabalhei em busca da minha verdade, daquilo em que acredito. Quem age assim se torna um apaixonado, um aguerrido, e a chance de gerar resultado é imensa. O dinheiro, nesse caso, não é o objetivo. Ele vem como consequência.
A L21Corp nasceu dessa trajetória pessoal e profissional?
Totalmente. A L21 é consequência dessa história, dessa paixão. Desenhei a companhia unindo pensamento artístico e pensamento corporativo. Por isso, hoje, posso dizer sem exagero: os Blue Note de São Paulo e do Rio são as casas mais importantes do país na sua categoria, em termos de curadoria artística. Já recebemos nomes como Martinho da Vila, Macy Gray, Nando Reis, Maria Rita, Adriana Calcanhoto, Hermeto Pascoal, Stanley Jordan… E, sim, somos hoje os maiores operadores de teatro do Brasil.
Muita gente ainda questiona se teatro é um bom negócio. O que você responde?
Que teatro é um meganegócio. Mas tem que ser bem feito. Com coração, sim, mas também com gestão. A plateia precisa levantar e aplaudir, mas para isso você tem que ter suporte econômico, planejamento e resultado. Isso eu aprendi porque já estive “do outro lado do balcão”, como executivo de contas.
Você acompanhou várias revoluções tecnológicas. Viu nascer e morrer o fax, o CD, o disquete, o pendrive… Empresas ficaram pelo caminho. Como conseguiu surfar essa onda e seguir crescendo?
Primeiro, é importante ter isso em mente: por mais inovadora, disruptiva ou tecnológica que seja uma novidade, nada substitui a experiência presencial. Estar em uma casa de espetáculos, em um teatro, em um festival de música é soberano. É nesse território que o meu negócio avança: experiências presenciais, de conexão real entre artista e público.
Então a tecnologia não ameaça esse modelo?
Jamais. Não haverá inteligência artificial, plataforma de streaming ou home theater capaz de substituir a energia de um show. Trata-se disso: energia. A troca do elenco com a plateia, o olhar, o suor do artista, a emoção coletiva de mil pessoas vibrando juntas. Cada espetáculo é único porque o resultado nasce dessa comunhão. Não existe tecnologia que replique isso.
Mas, ao mesmo tempo, você faz uso intenso da tecnologia.
Claro. O que nós soubemos foi entender a tecnologia e aplicá-la em benefício de tudo que produzimos. No musical Hair, por exemplo, usamos uma tela côncava 4K que cria a ilusão de cenário vivo. Nas redes sociais, amplificamos os espetáculos e os artistas. Na Musiqueria, a velocidade de produção de uma canção ou de um videoclipe hoje seria impensável no passado. Quando entrei na Sony, eu recebia um clipe do Michael Jackson em malote. Levava dias. Hoje, produzo em três horas, edito em mais uma e publico em seis horas no YouTube ou no Spotify. Isso seria inimaginável.
E qual deve ser, afinal, o papel da tecnologia no setor cultural?
O importante é que a gente utilize a tecnologia em benefício da arte. Que ela seja usada em prol da cultura. Que a gente surfe essa onda toda de tecnologia para potencializar a experiência artística, nunca para substituí-la.
E olhando para frente, qual é a sua leitura de futuro para a economia criativa?
Eu sou muito otimista. Acredito que o Brasil vive hoje um processo de profissionalização que só tende a se ampliar. A matéria-prima artística nós temos de sobra. Nenhum outro país do mundo reúne mais de 300 gêneros musicais como o Brasil. Do forró ao choro, do carimbó ao samba, do pagode ao pop. É um caldeirão único. E, ao mesmo tempo, o setor está cada vez mais profissionalizado. Isso faz com que o Brasil seja hoje a maior potência artístico-cultural do planeta.
Para concluir, que conselho você daria a quem está começando?
Vá em busca da sua verdade. Porque se você fizer isso com trabalho, dedicação, foco e profissionalismo, a chance de prosperar é gigante. Em todos os campos. No campo da economia criativa, não é diferente. É um lugar onde amor e paixão são absolutamente fundamentais. Mas a verdade tem que estar presente, para que tudo aquilo que você realmente sonha aconteça.
Marcos Salles é jornalista e presidente da Revista Manchete






 Menu
Menu